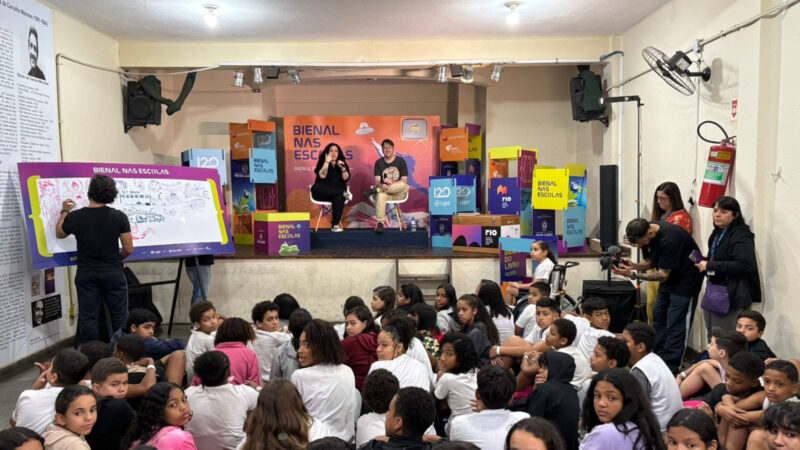Entrevista: Ubiratan Muarrek, escritor

1. O que o motivou a escolher Londres como cenário para tratar do embate entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno?
Em primeiro lugar, o fato de eu ter morado lá, e de todas as tardes observar o Concorde pousando sobre o meu bairro, um espetáculo impressionante. Isso forneceu o cenário para a minha narrativa. Mas há fatores históricos, como o papel da Inglaterra no imaginário coletivo da modernidade. Eu queria situar brasileiros de várias classes sociais e etnias num contexto outro que não o Brasil, para explorar o que poderia acontecer entre eles, uma vez que estivessem suspensas as salvaguardas econômicas, sociais e culturais de cada um. Londres me pareceu o cenário ideal, por todos esses motivos.
2. Meio do Céu se passa no dia da explosão do Concorde em 2000. Como esse evento específico conecta-se ao tema do livro e o que ele representa na obra?
Representa, em primeiro lugar, um elemento dramático: uma grande catástrofe, que teve repercussão global. Eu brinco um pouco com essa ideia no livro, elevando o acidente como um grande marco histórico, que provoca uma mudança de paradigma civilizacional. É como se, caído o Concorde, caísse por terra a possibilidade de entendimento entre as pessoas na face da terra. Essa é a ideia central do meu texto, a partir desse marco imaginário, que, no entanto, aconteceu no dia 25 de julho de 2000.
3. Você menciona a influência do teatro de Molière e do absurdo de Kafka e Beckett. Como esses elementos se manifestam na interação entre Sofitel e Greta?
Me parece claro, desde o início do diálogo entre Greta e Sofitel, que há algo estranho no ar, um caminho narrativo que se distancia de uma lógica mais racional. Com o avançar da peça, e a entrada em cena dos outros personagens, vai ficando cada vez mais claro que estamos avançando em uma outra dimensão, um espaço em que o sentido do que se é dito se perde diante das falas em si. A partir daí, temos um cômico que tanto pode ser comédia de costumes, quanto o absurdo que podemos atribuir ao estilo de Harold Pinter, além de Kafka e Beckett que você menciona.
4. Sua peça lida com temas complexos como racismo e tensões sociais. Quais foram os principais desafios em abordar esses assuntos de maneira tragicômica?
Foram muitos. O risco de se fazer sociologia a partir dessa temática é sempre muito alto, algo que eu evito a qualquer custo. A saída me parece ser perseguir a humanidade dos personagens, algo que envolve muito trabalho, centenas de reescritas, e um ouvido, digamos, para o próprio personagem, para deixá-lo evoluir na peça por si mesmo, para ele, em outras palavras, ser. Sem a força dos personagens, o que resta é discurso vazio e clichês, disfarçados de literatura.
5. Como a escolha pela tragicomédia contribui para explorar os dilemas contemporâneos do Brasil, especialmente no contexto internacional?
O tragicômico passa por cima das convenções, instituições, sistemas de conhecimento e crenças, com a força maior do que qualquer outro estilo, na minha opinião. Digamos que ele não respeita nada! Quando os atores políticos e sociais em si passam por cima de tudo isso, e o cinismo impera na política e no conjunto das relações humanas, acredito que o tragicômico tem a capacidade de, por incrível que pareça, devolver um pouco de racionalidade e sentido à experiência contemporânea. Absurda é a vida e o que fazem dela, afinal de contas.
6. Léo Lama descreve Meio do Céu como uma “cacofonia de palavras”. Como você trabalhou o uso da linguagem para criar essa sensação de caos e múltiplas vozes?
Deixando que as falas corressem soltas, uma emendando na outra, obedecendo a essa lógica que se impôs no trabalho. Eu até tentei deter isso, devolver o texto a uma certa convencionalidade que seria esperada. Mas não tive força. A loucura e ansiedade dos personagens falou, literalmente, mais alto. Não tive escolha a não ser deixar fluir.
7. No seu processo criativo, de que forma a fotografia de Wolfgang Tillmans do Concorde influenciou a narrativa?
A série do Tillmans sobre o Concorde me acompanhou durante a escrita. Eu olhava para as imagens e sentia que elas traduziam o background da peça. A capa só poderia ter sido essa.
8. Joaquim Nabuco é citado ao falar sobre o “abismo” entre o Brasil arcaico e o moderno. Como você vê esse conceito aplicado ao contexto atual e ao Brasil que retratou em Meio do Céu?
Para Nabuco, a escravidão não afetava apenas os diretamente envolvidos nela, mas toda a sociedade brasileira. O abismo que ela provocou é total, envolvendo todos os aspectos nacionais. Concordo com isso plenamente, assim como acredito que superar esse abismo, num esforço consciente de reparação e inclusão é o único caminho para o Brasil – um caminho longo, penoso e que envolve o conjunto da sociedade brasileira.
9. Como o público brasileiro e o público internacional têm respondido ao seu trabalho, especialmente às questões culturais e sociais que você explora?
Surpreendentemente bem. Digo isso com sinceridade, achei que as provocações e inovações formais do texto, bem como a abordagem de questões tão sensíveis, provocariam ruídos de leitura, o que até agora não aconteceu.
10. Você considera Meio do Céu mais uma peça teatral ou uma novela em formato dramático? E como foi escrever uma peça com a possibilidade de nunca ser encenada?
Meio do Céu é sem dúvida um texto teatral. Ocorre que eu acredito que textos de dramaturgia têm força literária, podem e deve ser lidos independente da encenação. Eu me esbaldo com Ibsen, Beckett, Suassuna, Dias Gomes e tantos outros. No momento, estou mergulhado em um texto de Oduvaldo Vianna Filho e Ferreira Gullar (Se ficar o bicho pega…). Não há razão para textos de dramaturgia não terem a mesma atenção como texto do que romances ou novelas, sendo que eu acredito que o drama consegue efeitos muito superiores ao romance no que diz respeito a provocar fissuras no tecido cultural. Se meu texto será encenado ou não, isso não faz diferença para mim.
11. Por fim, qual mensagem espera que Meio do Céu deixe aos leitores sobre o Brasil e nossa condição humana global?
Que nós sabemos fazer dramaturgia de qualidade, que corte na carne mesmo, diante de um cenário geral de inércia e estupor.