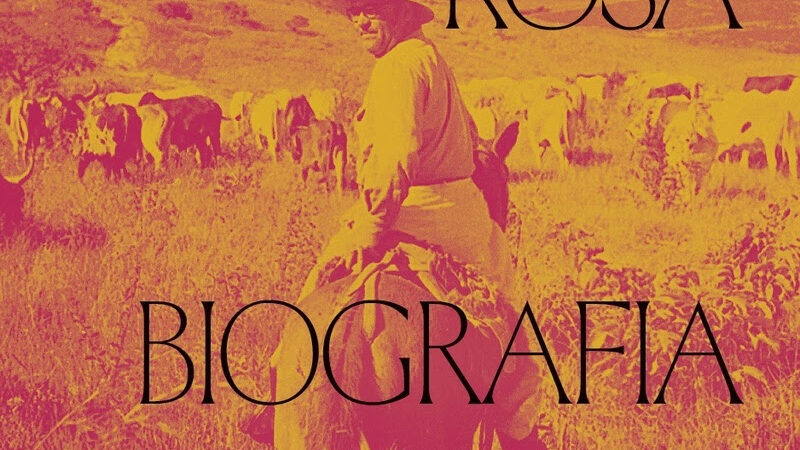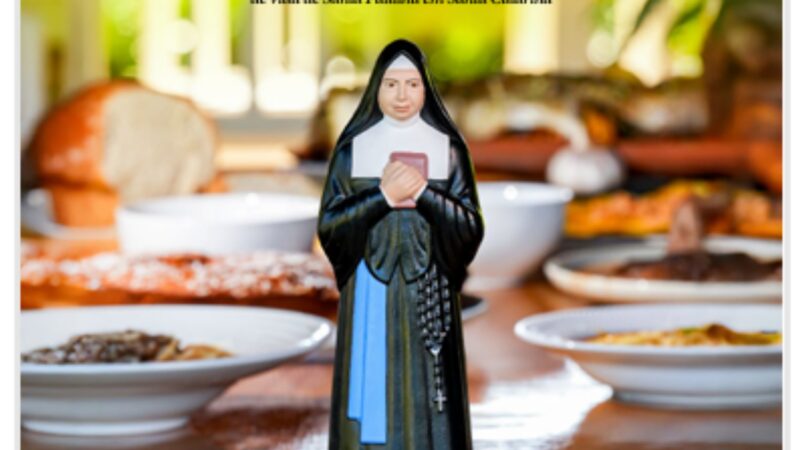Entrevista: Adriana Moro, enfermeira pós-doutora em Saúde Pública

- “Não me chame de Mãe” nasce da observação direta da realidade. Em que momento a profissional da saúde mental deu espaço à romancista?
Eu leciono desde 2008 no curso de enfermagem e sempre ensinei muito por histórias, pois sempre amei ler escrever. Naquela época os alunos me diziam que eu devia escrever um livro com as histórias que eu contava, o que aconteceu em 2015 durante o período de doutorado sanduíche que fiz em Coimbra – Portugal. Lá tive a oportunidade de cursar uma disciplina de escrita criativa e também ser incentiva por minha professora da época a transformar tudo aquilo que escrevia em um livro. Foi assim que surgiu meu primeiro livro de crônicas “As meninas que nunca perderam a graça” lançado em Portugal em 2016 pela editora Chiado. Ai foi o pontapé para começar a contar as histórias que atravessam o meu fazer profissional da saúde. O romance surge em um momento mais maduro após o término do pós-doutorado, quando tive a oportunidade de parar e me dedicar a uma história mais longa.
- O título já carrega uma ruptura forte. O que está em jogo quando uma mulher recusa ser definida apenas pelo papel da maternidade?
Em jogo está a credibilidade quanto mãe, quando ao seu desejo de exercer essa função.
- A pandemia de Covid-19 intensificou solidões já existentes. Por que esse contexto foi essencial para a história que você queria contar?
A maternidade mesmo quando acompanhada de uma rede de apoio por si só já é exercida na solidão, pois há coisas na relação com o bebê que só provêm da mãe. Como comenta Winnicott, a mãe e o bebê são um só até por volta do terceiro mês. O processo de gestação e o parto geram mudanças profundas na biofisiologia da mulher, isto por si só já faz com que a mulher esteja em uma situação vulnerável. Se formos somar ainda as dificuldades das mulheres que não tem rede de apoio isso se potencializa, o que na pandemia ficou escancarado, principalmente nas mulheres mães de filhos em situações atípicas. Contar isso por meio da escrita foi como que um compromisso da minha parte como mãe e mulher que vivencia isso na prática profissional diariamente. Já chorei muito com essas mulheres.
- O livro desconstrói a maternidade romantizada. Você acredita que ainda existe resistência social em falar sobre a maternidade real?
As pessoas no geral tendem a confundir o desejo da mulher de continuar exercendo outras funções e gostando delas com o desejo de ser mãe. Quando a mulher vira mãe ela não pode mais reclamar, ela precisa estar sempre a disposição de uma sociedade que se recusa a olhar para ela como pessoa com outras necessidades. A maternidade não é flores. Beijinhos em pés gordinhos e fofos são confundidos com a exaustão de noites em claro, choro intenso, cólicas, mamilos dilacerados em muitos casos, ficar a disposição 24 horas por dia para cuidar de um outro ser. Há muita resistência em separar a divindade da maternidade daquilo que realmente a mulher sente e até tem vergonha de falar, pois agora ela é mãe, precisa ser forte. Como se no momento que ganha este bebê recebe um bastão de força absoluta.
- A personagem enfrenta a maternidade solo e o diagnóstico de uma filha no espectro autista. Como foi equilibrar delicadeza, denúncia e verdade narrativa?
A personagem foi construída em camadas e como todos nós tem suas nuances positivas e negativas. Nem todo mundo é bom o tempo todo e foi nessa máxima que eu a construí. Ela foi ganhando forma também durante o meu próprio puerpério, cheio de amor, mas com várias dificuldades, emoções boas e ruins. Enquanto escrevia, sentia muitas das sensações que passei para ela. E quando pensei nas dificuldades que ela passaria com a ausência de um companheiro, de uma rede de apoio – o contrário do que eu tinha – pensei em todas as mulheres nesta situação que atendi no decorrer da minha carreira profissional de 24 anos atendendo no Sistema Único de Saúde brasileiro. Mas posso dizer que a delicadeza é resultado da compaixão que sinto pelo ser humano em sofrimento. Ela me ajuda a escrever aquilo que é necessário sem expor.
- Você fala em “duplo abandono”: do outro e de si. Esse é um dos grandes adoecimentos invisíveis da saúde mental feminina hoje?
A mãe que recebe o diagnóstico de qualquer alteração na saúde do filho passa por um sentimento forte de culpa, acaba abandonando o seu próprio cuidado para dedicar-se ao filho. Esta personagem passa pelo duplo abandono, pois abandona a si mesmo quanto pessoa merecedora de cuidados, assim como o abandono do companheiro, que não sabemos por quais motivos a deixou. Apesar de ser ficção, é a dura realidade que verificamos no dia a dia nos acolhimentos de saúde mental. A depressão encontra-se como um dos principais diagnósticos, assim como o abuso de substâncias como o cigarro e até mesmo a automutilação e desejo intenso de sumir. Lá em 2006, em uma pesquisa com mulheres que receberam o diagnóstico de um filho com síndrome de Down já percebíamos isso. As mulheres entrevistadas relatavam que alguns dos companheiros as abandonavam porque elas precisam dedicar-se mais aos cuidados do filho “especial”, assim como alguns até mesmo recusavam-se a reconhecer a paternidade alegando adultério pela condição diferente da face das crianças, olhos puxados, etc. Parecem ser situações absurdas, mas ainda vemos coisas assim acontecendo, quando a água começa a entrar muito companheiros pulam do barco, inclusive sem auxiliar financeiramente a mulher e infelizmente o Estado ainda não tem políticas públicas suficientes e eficazes para auxiliar no cuidado a essas crianças, assim consequentemente também as próprias mulheres que são esquecidas nas recepções dos consultórios médicos sendo reduzidas apenas a ser “a mãe de fulano”.
- Sua trajetória no SUS atravessa diretamente a escrita. O romance também funciona como uma forma de cuidado ou escuta ampliada?
Certamente. No momento que as pessoas se deparam com uma personagem como a que descrevemos, a tendência é que gere reflexão, assim também pode melhora no cuidado, na forma como percebemos essas mulheres em todas as esferas da sociedade. As que passam por situação semelhante também podem se reconhecer no livro e ver que não estão só, estimulando a busca por ajuda. Ganham ambos os lados. É um dos objetivos: impactar socialmente e provocar reflexão e mudanças.
- Os dados sobre o abandono paterno de crianças com deficiência são estarrecedores. A literatura consegue mobilizar empatia onde os números não alcançam?
Acredito que sim, por isso escrevo sobre. Muitas dos leitores que optam por esse tipo de literatura podem não ter contato com essa realidade, ou tem e talvez não se deem conta disso. Quando a escrita levanta o problema, promove discussão e início de possibilidade de mudança, tanto individual como coletiva. Acredito que a leitura possa inquietar e esse já é um começo.
- O livro não é “contra” a maternidade, mas a favor da mulher. Como separar essas duas instâncias num debate ainda tão moralizado?
Lendo. Se informando. Discutindo. Cada um fazendo a sua parte.
- A protagonista é construída a partir de muitas histórias reais. Como foi o processo de transformar vivências tão duras em ficção?
Foi inquietante no início. Existe o medo de que os leitores não entendam o personagem ou que as pessoas que vivenciam a situação não se sintam representadas. Também não era o objetivo escrever um livro que falasse somente sobre mães de crianças atípicas, mas sim da complexidade que é a vida feminina em cenários de insegurança. Como fiz muita pesquisa para compor a personagem, além da vivência de cuidadora dessas mulheres, não queria criar um estereótipo de mãe coitadinha. Fiquei muito receosa e até depois do lançamento perdurou a insegurança. Somente depois que o livro começou a ser lido e os feedbacks positivos começaram a chegar, principalmente de mulheres que tem filhos atípicos, passei a ter uma sensação de dever cumprido.
- Como escritora estreante no romance, o que mais te atravessou durante o processo de escrita: a dor, a responsabilidade ou a urgência?
Essa resposta é muito difícil. Mas acredito que a “urgência” de olharmos para as mulheres e pensarmos em políticas públicas e ações individuais e coletivas que possam melhorar a vida e evitar o adoecimento mental pela solidão no cuidado.
- Que tipo de conversa você espera que “Não me chame de Mãe” provoque na sociedade — especialmente fora dos círculos acadêmicos e da saúde?
A crítica social a redução da mulher a maternidade; A romantização da maternidade; A falta de olhar empático para um lugar que não conhecemos e além de não ajudarmos, julgamos; A falta de políticas públicas de cuidado a cuidadora; Rever o papel do homem quanto pai e a sua responsabilização no cuidado; Ética e moral para falar de um corpo que não é o meu.