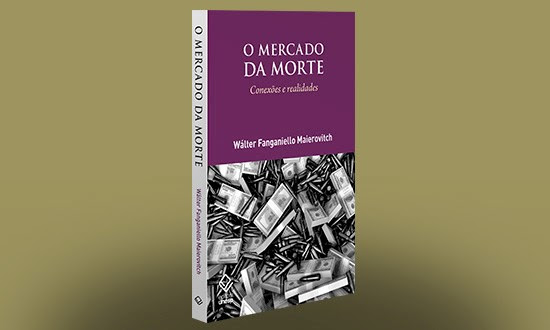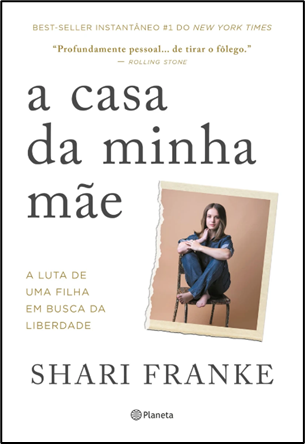Entrevista: Marcelo Moutinho, escritor

- Marcelo, como surgiu a ideia de escrever O último dia da infância e quais foram as principais inspirações para este livro?
O livro foi construído com base majoritariamente nas crônicas que escrevo mensalmente em minha coluna no jornal Rascunho. A partir delas, fiz a montagem. A abertura e o fecho se dão, respectivamente, com a crônica que trata da morte de minha mãe e com uma carta – ficcional – de sua neta para ela. Entre esses dois textos, estão as duas unidades centrais. A primeira reúne crônicas ambientadas no espaço íntimo da casa, muito ligadas à minha infância no subúrbio. Na segunda, cronista sai de casa e põe o pé na rua. Então temos um passeio por bares, praças, estádios de futebol. A vida coletiva filtrada pelo olhar do andarilho. A gênese do livro está nesse movimento da morte para a vida, do isolamento para a experiência coletiva.
- Em O último dia da infância, você aborda a morte da mãe e o luto. Como foi transformar essa experiência pessoal em matéria literária?
Acredito que a arte possibilita que a gente purgue essas dores. Ou, pelo menos, que as transformemos em reflexão. Tentei elaborar a morte, e o luto, misturando minha experiência pessoal à de outros escritores que passaram por situações semelhantes. E destacar, quando o morto é lembrado, ele continua vivo, de alguma forma.
- A geografia do Rio de Janeiro, da Zona Sul à Zona Norte, está muito presente nas crônicas. O que a cidade representa para sua escrita e como ela influencia seu olhar como cronista?
O assunto que mais me interessa, como escritor, é a cidade. Seus meandros, suas incongruências, a linguagem que é capaz de elaborar e nem sempre deciframos. E aqui me refiro à cidade como um todo, não só às imagens de cartão postal. Porque uma cidade não se define apenas por seus marcos turísticos, tampouco pelas áreas consideradas nobres. Ela respira nos becos, nas vielas, em lugares aparentemente sem importância. Todo o meu trabalho como escritor, e aí nem me refiro apenas ao cronista, está ligado ao olhar sobre a cidade.
- Além do Rio, você menciona outras cidades, como Salvador, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires. O que esses lugares contribuíram para o universo deste livro?
O Rio de Janeiro foi onde eu nasci e é onde vivo. Mas meu interesse pela experiência urbana não se restringe aos limites da capital fluminense. Essas outras cidades também falam com o cronista – no caso, sob outro filtro, o da descoberta.
- Como foi o processo de dialogar com grandes nomes da literatura, como João do Rio, Clarice Lispector e Rubem Braga, e ao mesmo tempo incluir autores contemporâneos na obra?
A crônica brasileira foi construída e formatada por sequenciais gerações de escritores. Há artistas que creem na falsa ideia de que, com sua obra, acabam de cortar a fita inaugural do Paraíso. Não é o meu caso. Bato cabeça para os que vieram antes e tento dialogar com eles. Ao mesmo tempo, procuro estabelecer uma troca sincera e afetiva com meus contemporâneos. Somos, todos, parte de uma mesma história, de uma tradição que não cessa de ser construída.
- No livro, você explora temas como a pandemia e o isolamento. Como essa experiência moldou sua escrita e percepção sobre as relações humanas?
Não diria que moldou minha escrita, mas refletiu nela. Porque quem viveu a pandemia, com tantas mortes, tanto isolamento, tanta dor, não saiu imune disso. Achei importante incluir no livro os textos que abordam o período porque o pior que podemos fazer é recalcar essa experiência.
- O último dia da infância está dividido em unidades temáticas. Como você escolheu organizar o livro dessa forma e o que cada unidade representa?
Acho que respondi essa questão das unidades temáticas na primeira pergunta. Sobre a opção pela montagem, é porque gosto que meus livros tenham um sentido para além da mera recolha de textos esparsos. Uma organicidade, que pode vir do tema, da ambiência ou de outro fator.
- As crônicas transitam entre a memória, as emoções e a vida urbana. Para você, qual a importância de explorar esses territórios afetivos?
O poeta Charles Baudelaire escreveu certa vez que “uma cidade envelhece mais rápido que o coração mortal”. De fato, as cidades se transformam num ritmo mais acelerado do que nossos afetos. Uma praça que frequentávamos na infância, uma sorveteria onde gostávamos de ir, esses lugares de pertencimento não raro viram outra coisa. Uma farmácia, um viaduto… E aquele mapa íntimo que um dia desenhamos passa a só fazer sentido para nós mesmos. A literatura tem o poder de resistir a essa destruição. O que está escrito sobrevive para além do físico.
- Você menciona a filha Lia em várias crônicas. Como a experiência da paternidade tem impactado sua escrita?
De forma substancial. A experiência da paternidade me restaurou a capacidade do espanto. Na vivência com minha filha, tenho sido atirado de volta à minha própria infância e passado a ver o mundo com olhos menos armados.
- Como você vê a crônica como gênero literário nos dias de hoje, e qual é o papel dela na literatura brasileira contemporânea?
Para o mercado, a crônica é o Patinho Feio. E é fundamental termos o Patinho Feio em meio ao lago dos cisnes.
- Este é mais um trabalho lançado pela Editora Malê, com quem você já tem uma relação consolidada. Como é trabalhar com a editora e o que essa parceria representa?
É uma relação de muito respeito e afeto. Tenho profunda admiração pelo que a Malê vem fazendo dentro do meio literário brasileiro, inclusive pela coragem de remar contra a maré do mercado em vários momentos.
- O título O último dia da infância é bastante evocativo. Como ele sintetiza o conteúdo do livro?
O título vem de um texto do Antônio Maria, a quem homenageio na epígrafe do livro. E tem a ver com a crônica de abertura, na qual falo que a morte dos pais talvez seja o último dia da nossa infância.
- Algumas crônicas trazem um tom bem-humorado e prosaico, enquanto outras são mais líricas e introspectivas. Como você equilibra esses registros em sua escrita?
De maneira muito natural. A vida, afinal, não é isso? Num dia, quente; noutro fria. Num dia, lirismo; no outro pura sordidez. As crônicas só refletem isso.
- No lançamento no Rio de Janeiro, haverá uma roda de samba com o grupo Sambachaça. Qual a importância da música e do samba em sua vida e no contexto do livro?
Sou frequentador assíduo de rodas de samba, pesquiso o tema e creio firmemente que a música é a modalidade artística na qual o Brasil supera qualquer outro país do mundo. Ela faz parte da minha vida cotidiana e, consequentemente, escorre para os textos que escrevo, sejam crônicas ou contos.
- Para os leitores que já acompanham seu trabalho, o que eles podem esperar de novo em O último dia da infância?
Isso eu espero que eles me digam depois de ler. Um livro só se faz inteiramente no encontro com o leitor.
- Qual foi a crônica mais desafiadora de escrever neste livro, e por quê?
Certamente aquelas que demandaram mais pesquisa, como a que trata da relação da literatura brasileira com o futebol e a que aborda a origem da expressão pão-duro.
- Há um caráter fotográfico em suas crônicas, como se elas capturassem pequenos momentos. De onde vem essa abordagem e como você a desenvolveu?
Talvez tenha a ver com meu passado de crítico de cinema. A cinefilia faz a gente desenvolver um olhar mais acurado para a composição da cena, para o plano como um todo. Mas esse foco no detalhe, na pequeneza, faz parte também do trabalho de observação do cronista.
- Como você espera que os leitores se conectem com os temas de O último dia da infância?
Da forma que eles quiserem. Depois de lançado, o livro é do mundo.
- O que você diria para alguém que está entrando em contato com a sua escrita pela primeira vez através deste livro?
Recline o banco e aproveite a viagem.
- Por fim, quais são seus planos futuros na literatura? Podemos esperar novos projetos em outros gêneros?
Ainda este ano vou lançar meu terceiro infantil e estou trabalhando atualmente em um novo livro de contos. Então teremos novidades em breve, sim.