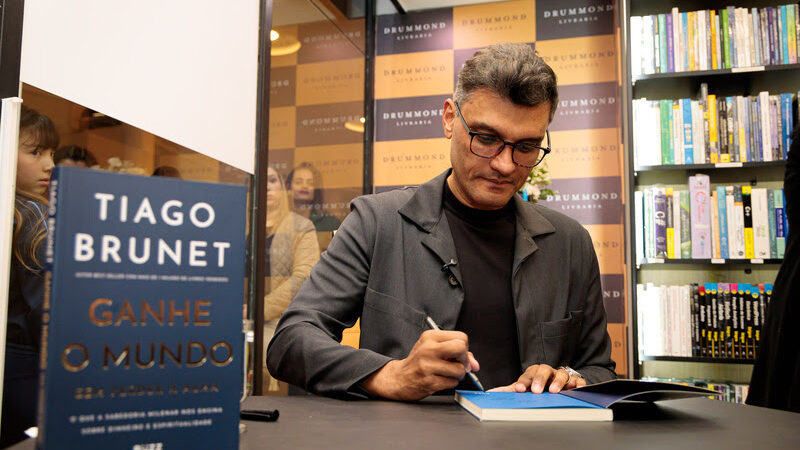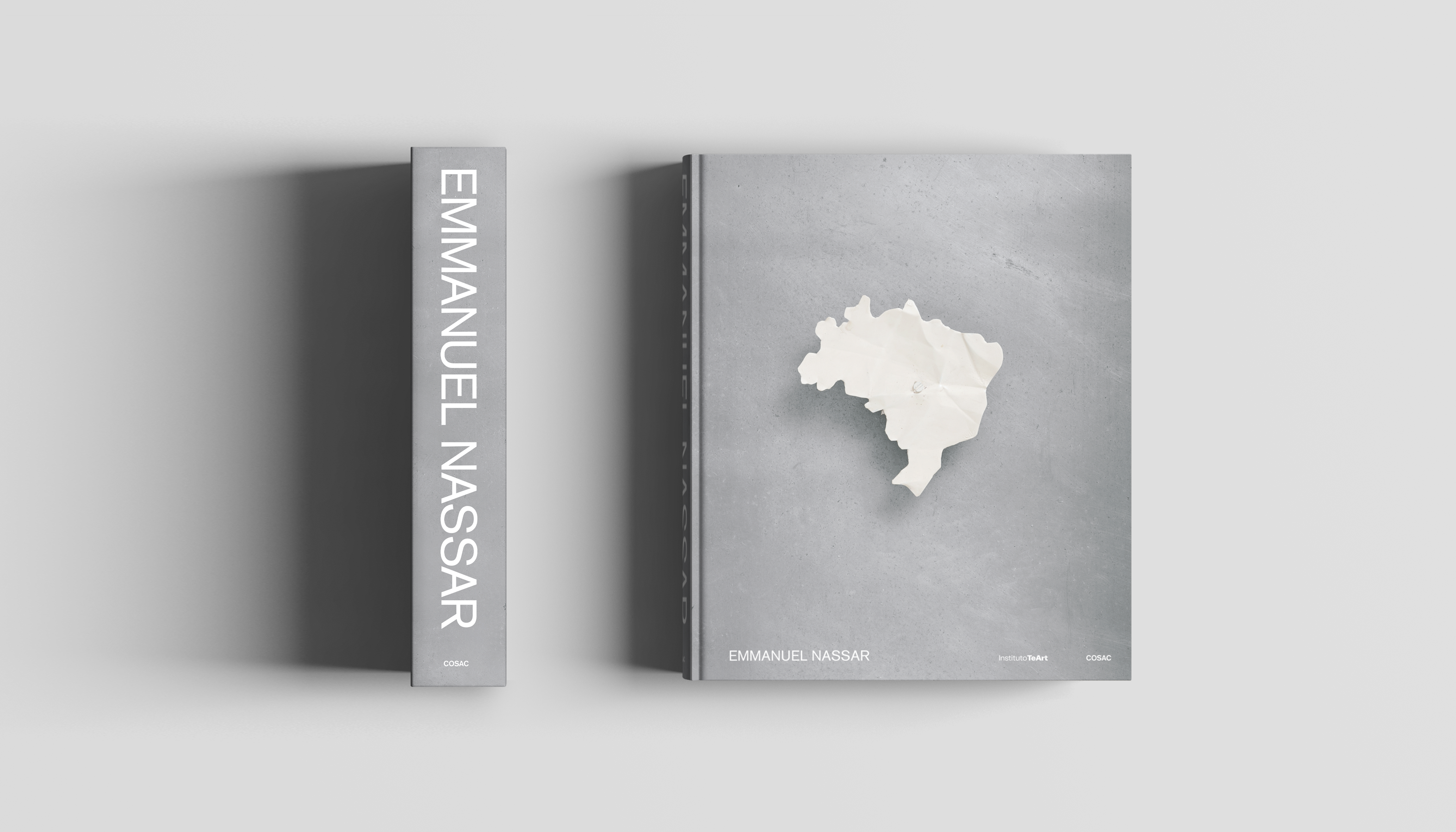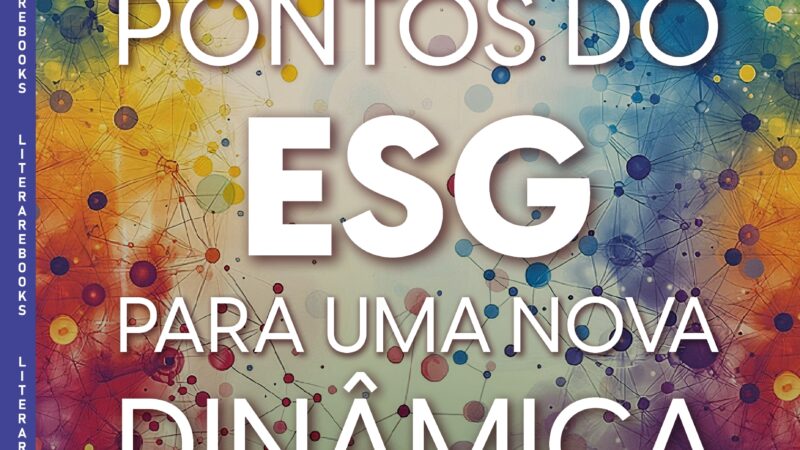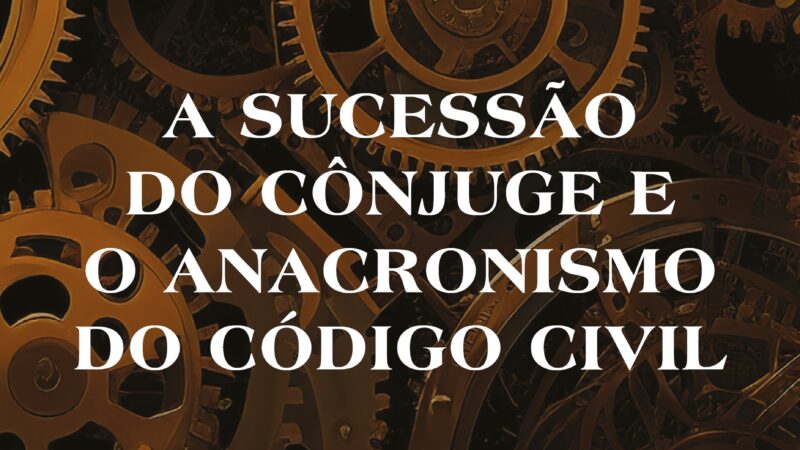Entrevista: Marcio Freitas, escritor
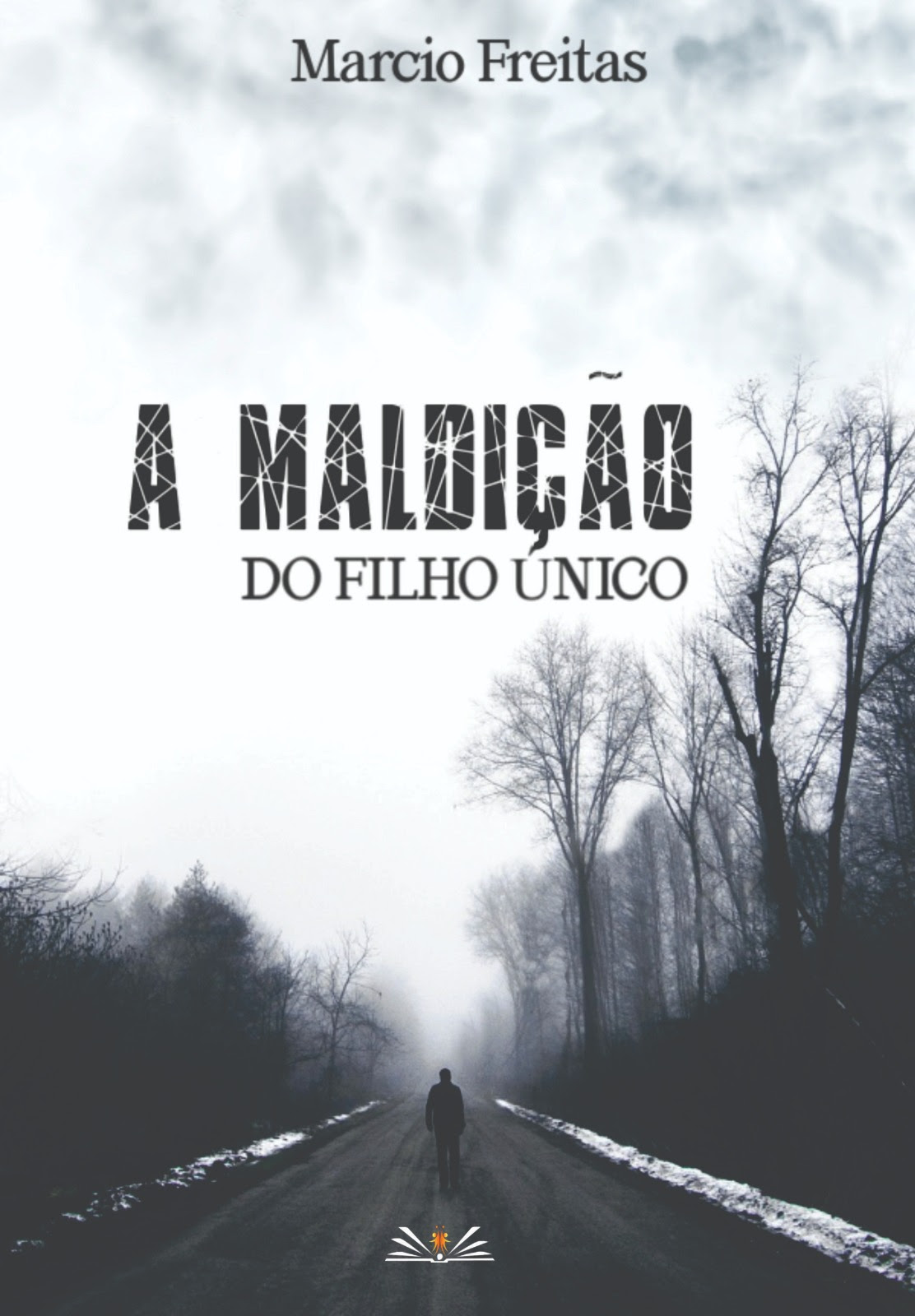
- O livro acompanha a trajetória de Biro, um jovem cigano que abandona tradições para buscar seu próprio caminho. Como a origem cigana do personagem influencia as escolhas e dilemas que ele enfrenta?
A origem cigana de Biro é uma espécie de sombra e farol ao mesmo tempo. Desde cedo, ele percebe que carregar essa identidade é como vestir uma pele que convida ao preconceito. A infância marcada por olhares tortos e insinuações cruéis foi suficiente para que ele aprendesse a se proteger por meio do silêncio.
Biro nunca negou sua origem, mas também nunca a celebrou em voz alta. Guardou para si os saberes que observava da mãe — uma mulher que estudava as práticas ciganas com seriedade e método. Ele lia os livros dela às escondidas, não para aprender as técnicas, mas para aprender a ler e escrever. Só entrou numa escola formal quase na adolescência, e, até lá, foi nas revistas velhas que seu tio levava para ele brincar, e em outras possibilidades, que encontrou sua alfabetização e seu amor pelas palavras e poesia.
Ao longo da vida, usou intuitivamente algumas dessas práticas ciganas para entender pessoas e contextos, sobretudo em relações afetivas. Mas jamais assumiu sua identidade cigana de maneira plena. Preferiu silenciar a própria história como forma de se proteger num mundo que ele intuía, e depois comprovava, não estar preparado para acolhê-la sem distorções.
Até mesmo de sua esposa ele esconde esse traço essencial. Porque viver já é difícil o bastante; carregar nas costas um rótulo mal compreendido seria como pedir mais pedras num caminho que já é de terra batida. O dilema de Biro, portanto, não é apenas individual. É um espelho da sociedade que ainda rejeita o que não entende.
- A narrativa aborda cinco décadas de transformações políticas, sociais e tecnológicas no Brasil. Quais foram os maiores desafios para você ao equilibrar essa dimensão histórica com a história pessoal do Biro?
O maior desafio foi condensar cinco décadas de Brasil — tantas rupturas, avanços e retrocessos — em um romance de apenas 160 páginas. É uma travessia longa, feita com poucas palavras, o que exige precisão e coragem narrativa. A dinâmica do livro reflete a própria ansiedade do Biro, que é, no fundo, a ansiedade da nossa geração: uma pressa difusa por encontrar caminhos, por resolver-se, por fazer sentido num país que muda de rosto a cada crise.
Em alguns períodos, o personagem permanece por mais tempo, em outros, o tempo simplesmente voa — como na vida real. Esse ritmo vertiginoso não é descuido, é linguagem. Quis que o leitor sentisse a velocidade da história e a vertigem da vida passando. O equilíbrio entre o tempo histórico e o tempo do personagem foi conquistado na base de muita pesquisa, reescrita e revisão. Revisei e reescrevi muitas vezes, tentando afinar um instrumento raro, sem deixar que um momento da história abafasse o som do outro.
A escolha de narrar tudo em tempo presente foi outro risco assumido. Tornar a leitura mais viva, mais visceral. O leitor é jogado diretamente nas cenas, seja nos tempos do Sarney, nas primeiras eleições para prefeito depois da ditadura, no plano Real ou na pandemia. É possível se sentir ao lado dos personagens.
- O livro mistura realidade e imaginação, trazendo uma linguagem quase cinematográfica. Como você desenvolveu esse estilo narrativo e qual foi sua intenção ao usá-lo?
Desde sempre, antes de escrever, eu observo. Sou um voyeur da sociedade, no melhor e mais ético sentido do termo. Observo gestos, escolhas, pressas, gentilezas, agressões, silêncios e ruídos. Me alimento do mundo ao redor. Nem tudo vai para o papel, mas o que vai, carrega a essência da vida real.
Meu primeiro romance é uma saga com arco temporal longo, mas visualmente estruturado, como se tivesse a intenção de projetar uma série para a TV. Quando escrevo, não são apenas palavras que fluem: são imagens, movimentos, intenções. Escrevo como quem monta uma cena, com luz, ângulo e respiração. A linguagem que escolhi para “A Maldição do Filho Único” é cinematográfica, no sentido mais humilde e honesto da palavra. Não busco deslumbrar, mas fazer com que o leitor veja. Que leia com os olhos, que escute com a memória, que imagine o som dos passos, o cheiro dos ambientes, a cor do vestido, o amargo da língua, o sal do suor.
Escrevo para transformar texto em imagem. Minha intenção é essa, que o leitor se sinta dentro do plano, como se estivesse assistindo à própria vida, só que por outro ponto de vista.
- A ansiedade é um tema central no romance, representando tanto o personagem quanto uma geração. Como você vê a relação entre o mundo contemporâneo e esse sentimento que afeta tantas pessoas?
Além de tema do livro, a ansiedade é algo que pesquiso há anos como jornalista, especialmente no cruzamento com a comunicação e a sustentabilidade. É uma patologia antiga, que atravessa os séculos vestida com os figurinos de cada época. Hoje, ela vem disfarçada de hiperconectividade, excesso de estímulos, vício em tela, escassez de silêncio e uma pressa crônica de chegar a algum lugar, que, na verdade, nem sabemos onde é.
Vivemos como se estivéssemos sempre a um clique da felicidade, mas basta alcançar uma meta para o cérebro pedir a próxima. É a lógica do “ouro de tolo”, como na música do Raul: mesmo tendo tudo, a pessoa se vê presa numa convulsão de desejos, um vazio insaciável que não se preenche com conquistas.
No caso do Biro, a ansiedade é atravessada por outros agravantes: seus segredos, sua origem oculta, os muros que construiu para se proteger do preconceito. Esses silêncios o isolam, inclusive de quem o ama. Talvez seja isso que torne sua ansiedade ainda mais profunda, pois ela não é só sobre o futuro incerto, mas sobre um passado não contado. A ausência de vínculos familiares, a culpa, os desejos mal digeridos… Tudo isso forma um caldeirão emocional difícil de administrar.
Mas Biro também é um malabarista. Mesmo tropeçando, ele tenta manter tudo no ar. E talvez aí esteja o espelho de uma geração inteira: todos tentando lidar com suas fissuras internas enquanto respondem aos ruídos de um mundo cada vez mais veloz e impaciente.
- A trajetória de Biro inclui uma transição da poesia para o mundo corporativo, de contestador para defensor do sistema. Que mensagem essa mudança traz sobre poder, ambição e autenticidade?
Biro é, acima de tudo, um sobrevivente. Sua trajetória é marcada pela transição de um mundo quase mítico — Pixaxá, com seu rio abençoado, suas festas ciganas e a utopia dos hippies — para os corredores assépticos do mundo corporativo, onde as decisões são tomadas a portas fechadas e o poder se mede em silêncio e cifras.
Na infância, ele viu o paraíso se transformar em fronteira. Viu a mata dar lugar a muros, as tendas ciganas serem desalojadas por cercas e jagunços. O progresso chegou com as fábricas, mas trouxe também a exclusão dos seus. Esse deslocamento forçado ficou marcado em sua carne. Talvez por isso, Biro tenha aprendido cedo que, para não ser varrido pelo sistema, às vezes é preciso se adaptar a ele.
No início da vida adulta, depois de abandonar um cargo público onde tinha estabilidade, mas não propósito, ele tropeçou em diversos empregos. Foi demitido por vaidade, por não se enquadrar, por ser quem era, por falta de budget, por toda falta de justificativa. Viu o mundo corporativo como um teatro de vaidades, onde patrões se comportam como deuses menores, brincando com o destino de seus funcionários. Quando sentiu que estava na beira do abismo — com a maldição cigana à espreita e o fantasma da fome à sua porta — aceitou um trabalho que, anos antes, o faria vomitar: defender a reputação das indústrias acusadas de poluir o mesmo tipo de rio que banhou sua infância.
Nesse momento, Biro faz uma viagem interior vertiginosa. Lembra dos poemas de protesto colados nos postes de Pixaxá, da água contaminada, dos expulsos, das promessas da mãe. Mas escolhe o presente. Troca o ideal pela sobrevivência. Troca os versos pela retórica institucional. Não sem dor, não sem rachaduras internas. Mas consciente de que um prato de comida, às vezes, fala mais alto que uma bandeira erguida.
Sua trajetória nos fala do preço da ambição e das concessões da autenticidade. Fala de um país onde muitos, como Biro, precisam apagar o poeta, o ator, cantor, artista ou artesão para garantir o teto. Mas também revela um paradoxo bonito e triste: mesmo ao defender o sistema, Biro nunca deixa de ser um poeta por dentro. Ele apenas silencia. Talvez esse silêncio seja a forma mais dramática de poesia.
6. As mulheres no livro têm um papel fundamental como faróis na vida do protagonista. Pode falar sobre a importância dessas personagens e como elas moldam a narrativa?
As mulheres, no universo de A Maldição do Filho Único, são bússolas emocionais e morais na trajetória de Biro. São faróis, mas também são labirintos onde ele se encontra e se perde. A primeira dessas figuras é Carmem das Nuvens, sua mãe. Uma cigana que vive entre segredos, dívidas e promessas feitas aos antepassados, entre elas a mais ambiciosa: que seu filho se tornaria o rei da etnia. Mas a vida não se curva às promessas místicas, e Carmem logo percebe que Biro não é um destino traçado, mas uma vontade própria em constante fuga.
É com ela que ele aprende a camuflar verdades, a mentir como forma de sobrevivência e autonomia. Desde pequeno, suas palavras são meticulosamente editadas para que a mãe ouça apenas o que ele deseja que seja ouvido. E é nesse jogo de disfarces que ele conquista espaço para seus sonhos de liberdade e poesia.
Depois vem Dona Crila, a velha cigana que alfabetiza as crianças da comunidade. Ao ver Biro encantado pelos versos recitados em voz alta, percebe que ali há um menino diferente. Ele enxerga vida nos poemas. É nesse contato que começa a moldar sua sensibilidade.
Na escola formal, uma professora de inglês autoritária provoca em Biro uma inquietação não nomeada — um desejo de brilhar, de ser visto, talvez até de ser amado. Mais tarde, ele entende o que estava por trás daquela vontade constante de impressioná-la. Cada mulher deixa uma marca. Bruna, por exemplo, o inicia nos prazeres do corpo, fazendo com que Biro se sinta, pela primeira vez, completo, como se aquele rito de passagem o aproximasse de sua própria humanidade.
Em sua vida adulta, chefes e colegas mulheres o ajudam e o desafiam em igual medida. Algumas o apoiam. Outras, talvez incomodadas com seu carisma, o enfrentam com rigor. Biro é bonito, encantador, um artista nato da palavra e da sedução, mas esse brilho, às vezes, ofusca e cobra caro.
Ametista, sua companheira e mãe de seu filho Rhaul, é o contraponto definitivo. Ela é quem o faz olhar para trás e rever a trilha. É nela que Biro encontra um espelho e uma moldura. Alguém que o obriga a se encaixar, a se repensar, a renascer.
No fundo, essas mulheres funcionam como mães temporárias para um filho único que sempre buscou colo, mesmo quando fingia independência. Cada uma, à sua maneira, oferece abrigo, afasta fantasmas, aponta novos caminhos. E talvez seja essa a verdadeira maldição de Biro: ser eternamente moldado por quem o ama, mesmo quando ele tenta escapar desse amor.
- Como jornalista e poeta, você transita entre diferentes formas de expressão. De que maneira sua experiência profissional influenciou a escrita deste romance?
Minha experiência como poeta, jornalista, relações públicas, profissional de comunicação e sustentabilidade foi essencial para dar corpo e substância a esse romance. Como jornalista e profissional que circula pelo mundo empresarial, pude desenhar, com algum traço de autoridade, a esquizofrenia do mundo corporativo, a solidão do empresário e as decisões que o dinheiro e o poder moldam ou destoem. Os empregos que Biro atravessa ao longo da narrativa foram inspirados por anos de observação atenta, leituras, conversas e pela própria vivência profissional. Há neste livro um retrato crítico, quase um grito, diante de uma sociedade que adoece enquanto finge prosperar.
Trouxe para a ficção a sociologia dos modelos de trabalho, os desafios cotidianos de quem vive à mercê do salário, o medo persistente de perder o sustento. Mas também trouxe a decadência do jornalismo tradicional. A máquina de escrever que encantava Biro cede lugar ao computador; o fax que parecia milagre vira peça de museu; as bancas de jornal se transformam em minimercados; as redações se esvaziam, e o jornalismo, cada vez mais, é devorado pela lógica das redes sociais e do conteúdo instantâneo. Essa erosão é real, concreta, e ecoa diretamente na minha história.
Esse romance, portanto, é também uma forma de protesto. Um manifesto íntimo, porém coletivo, contra as mazelas que se arrastam há décadas e que ainda resistimos em enfrentar com seriedade, como a crise climática e a epidemia silenciosa da superficialidade.
E mesmo após todos os atalhos digitais, no final do livro, Biro ainda escolhe o papel e a caneta para escrever seu último poema. Talvez porque, no fundo, ainda exista algo que só se revela quando a palavra risca o papel em silêncio.
- O título, A Maldição do Filho Único, sugere um peso simbólico e emocional. Poderia nos falar sobre essa maldição e como ela se relaciona com a busca por identidade e pertencimento?
A maldição do título tem várias camadas. A primeira nasce no berço cigano de Biro: sua mãe, Carmem das Nuvens, foi criada por outra cigana depois de ser deixada pela própria mãe, e, ao dar à luz, aceita um ritual que destina seu filho único a ser o futuro rei de sua etnia. Durante anos, ela alimenta esse destino com fé e medo, até que, com o tempo, percebe que a realidade está se dissolvendo ao redor: os acampamentos se esvaziam, as carroças se dispersam, as fábricas invadem Pixaxá, e o que era coletivo se esfarela em sobrevivência individual. Ela então desiste do sonho. Mas o filho já carrega a marca.
Ser filho único, no romance, é também metáfora. Fala de um tipo de solidão estrutural, não a ausência de irmãos apenas, mas a ausência de espelhos próximos, de partilhas íntimas da infância. Biro cresce sozinho no mundo, e esse isolamento molda seu modo de ser e de ver. É um personagem que, mesmo cercado de pessoas, vive em diálogo com suas próprias dúvidas e ecos. O filho único que ele representa não é uma crítica, mas um símbolo. É o indivíduo que aprende a se bastar, mas que também sente falta de se ver no outro.
Ao longo da narrativa, Biro encontra irmãs e irmãos circunstanciais, pessoas que lhe oferecem afeto, conselhos, presença, como se, por um instante, a maldição se suspendesse. Ainda assim, há algo nele que permanece inteiro e indivisível, como um espelho que só reflete a si mesmo. A maldição, talvez, seja ter que aprender a ser inteiro sem nunca ter sido parte de um todo maior.
- Que impacto você espera que o livro tenha no leitor, especialmente diante do atual momento social e político do país?
Diferente do meu primeiro romance, que explorava temas como racismo, injustiça social, prisões injustas, comportamento da polícia truculenta, o uso medicinal da maconha e os impasses das políticas públicas, A Maldição do Filho Único busca provocar no leitor uma reflexão íntima — e urgente — sobre a obsessão contemporânea por conquistas materiais e visibilidade social, sem o devido preparo emocional para lidar com tudo isso. Acima de tudo, o livro é um alerta: estamos nos tornando prisioneiros de nossas próprias ambições, em uma sociedade que nos vende velocidade, performance e acúmulo como sinônimos de sucesso, quando, muitas vezes, são apenas sinônimos de exaustão.
A ansiedade, nesse contexto, é o grande sintoma do nosso tempo. E é também a doença invisível que se normalizou. Aceitamos conviver com ela como se fosse uma dor de cabeça qualquer, esperando que passe, sem nunca encarar suas causas. Biro, o protagonista, é um personagem que carrega a ansiedade como uma herança silenciosa, uma espécie de maldição ancestral e moderna ao mesmo tempo. Ele tenta voar desde menino, como diz na cena inicial, ao ver as andorinhas pontilhando o céu do entardecer. Termina vendo seu filho Rhaul sonhar em passar férias na Lua. São desejos de fuga, de transcendência, de leveza. Mas, entre essas duas cenas, o que temos é um país atravessado por crises, um personagem atravessado por angústias, e uma geração que não sabe mais diferenciar sonho de meta, conquista de cobrança.
O impacto que desejo com esse livro é o de provocar uma freada poética. Uma pausa. Uma possibilidade de o leitor se olhar por dentro, reconhecer suas pressões internas e externas, e talvez encontrar, nas entrelinhas, uma chave esquecida no bolso. A chave que pode abrir a gaiola onde tantos vivem sem perceber.
- Quais os próximos passos da sua carreira literária? Podemos esperar novos projetos em breve?
Sim, tenho novos projetos literários em andamento e outros já prontos. Um deles é O Buraco da América, um livro de poesia finalizado, que aguarda o apoio certo para ser publicado. Trata-se de uma coletânea que atravessa questões sociais, afetivas e existenciais com o olhar agudo de quem vive por dentro as contradições do nosso tempo. Também reúno vários contos já escritos (alguns publicados em coletâneas), que podem se transformar em um novo livro.
Paralelamente, comecei a estruturar um novo livro, agora sobre o mercado de carbono — um tema ainda pouco familiar para o grande público, mas que em breve estará no centro das decisões das empresas, dos governos e até das nossas rotinas. Será um desafio diferente da ficção: uma obra de não ficção com pegada ensaística, acessível, crítica e envolvente, conectando o debate climático a questões humanas e sociais. Quero que o leitor compreenda esse universo sem precisar ser um especialista. Se possível, que se sinta parte da transformação.
Ainda que a vontade de escrever novos romances continue viva, neste momento estou focado em fazer com que A Maldição do Filho Único chegue mais longe. Quero trabalhar a mensagem da obra com profundidade, pois acredito que ela tem potencial para gerar desdobramentos importantes, inclusive como filme ou série.