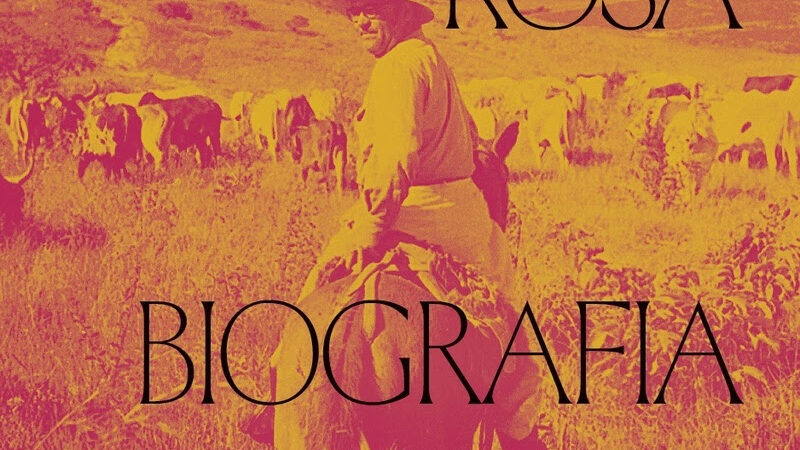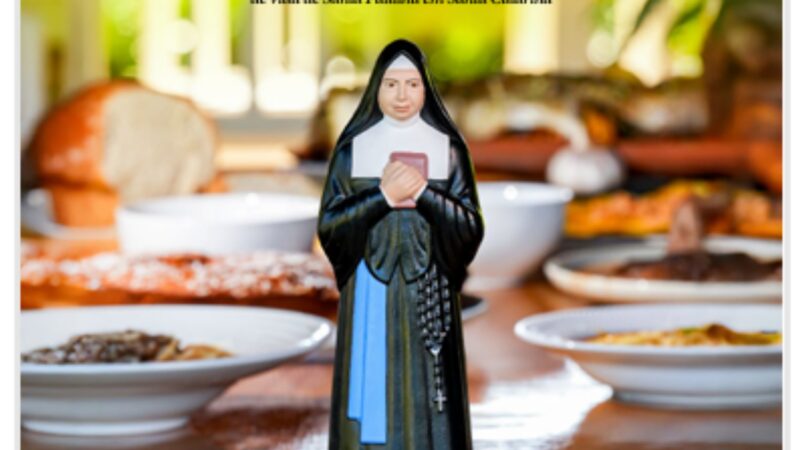Entrevista: María Elena Morán, escritora e roteirista

- Voltar a quando nasce de uma experiência pessoal de luto, mas também de uma reflexão coletiva sobre a Venezuela. Como foi transformar esse luto político e íntimo em ficção sem cair no testemunho direto?
Eu não tenho, do ponto de vista da escrita, interesse no testemunho direto. Eu sou uma ficcionista. Ainda que neste caso eu estivesse trabalhando com um material humano que me é familiar e até íntimo, tudo nele é filtrado pela ficção. As personagens têm traços e conflitos que eu roubei de pessoas reais, que misturei, exagerei, diminuí, contaminei, exatamente com a mesma liberdade que eu fiz em qualquer outro projeto. Nesse sentido, eu trabalhei esse romance como teria trabalhado qualquer outro, pensando nas técnicas e estratégias ficcionais que me permitissem oferecer ao leitor uma certa experiência de leitura, veiculando questões do humano que me interessam e que, neste caso, assumem a roupagem particular da Venezuela contemporânea.
- O título do livro é uma pergunta — “Voltar a quando?” — e carrega uma dimensão filosófica sobre o tempo, a memória e o arrependimento. Qual foi o ponto de partida para essa pergunta e que tipo de resposta você buscava ao escrevê-la?
Na verdade, a pergunta foi o ponto de partida para a escrita. De fato, é a primeira anotação que eu tenho sobre o livro. Eu acredito que não estava buscando respostas, continuo sem tê-las. O processo de escrita do livro foi conseguir me fazer as perguntas que eu não conseguia formular, pois eram difíceis demais, desestruturantes demais pra mim. É muito mais fácil e mais tranquilizador ter respostas.
- Nina é uma personagem que encarna a crise de um país e de uma geração. Em que medida ela representa a mulher latino-americana contemporânea, especialmente diante da necessidade de resistir e cuidar?
Não acho que exista uma mulher latino-americana contemporânea, mas milhões e milhões delas, com diversas e intrincadas experiências, impossíveis de serem colocadas sob uma mesma etiqueta. O que eu ofereço com Nina é uma dessas vidas possíveis com suas particularidades; então, ela é sim, uma mulher latino-americana contemporânea, mas o que isso quer dizer exatamente?
Eu trabalhei e refleti muito para que ela não fosse uma vítima absoluta e que o leitor sentisse por ela aquela piedade homogênea e apriorística que as condições tão simbolicamente carregadas de mulher, mãe e migrante geram. Por isso, Nina é uma pessoa teimosa e orgulhosa, que não gosta de se justificar; por isso ela empreende uma viagem solitária, deixando filha e mãe para trás, em vez de fazer o que a cartilha da mãe abnegada e o estereótipo da latina mandam. A viagem de Nina é um desafio às expectativas de gênero que inclusive sua própria família tem e torna sua rede de relações mais complexa e cheia de conflitos. Mas Nina, acima de tudo, se crê autossuficiente e tem um medo quase patológico de pedir ajuda. Essa é a origem de muitas das coisas boas e de todas as coisas ruins que acontecem com ela, e é também um dos traços mais compartilhados por esse grande contingente humano de mulheres latinas do mundo de hoje, muitas vezes condenadas a lidar sozinhas com a maternidade, com as tarefas de cuidado e com a subsistência do lar, entre mil outras cargas que o patriarcado impõe.
- O exílio no Brasil é um elemento central da narrativa. Como foi escrever sobre essa experiência de deslocamento a partir do olhar de uma venezuelana que hoje vive aqui?
Ainda que minha história seja totalmente diferente, eu não deixo de ser uma venezuelana fazendo vida aqui. O que eu fiz foi um exercício de imaginação colocando as personagens em situações, lugares, ambientes que são meus, imaginando como a situação da Venezuela, agora mais aguda e gritante, filtraria o que tais ambientes e tais redes de pessoas fariam com a presença da Nina, como interagiriam, como reagiriam a sua trajetória e como a impactariam.
Me interessava trazer perspectivas variadas e respeitosas, ser honesta com relação à recepção, cuja experiência é muito rica e complexa e pode incluir atitudes que vão de um acampamento queimado na fronteira a uma vaquinha para ajudar uma mãe precisando recuperar a filha.
- O colapso da Venezuela é pano de fundo, mas também espelho do colapso afetivo. Como você trabalhou a ideia de que o político e o pessoal são inseparáveis?
Essa ideia foi aparecendo de forma natural pela própria construção das personagens e pelo jeito como o tema é veiculado através delas. Somos seres políticos, vivemos em comunidade e nela nos entendemos e nos desentendemos. A política é reflexo das pessoas que a fazem — e também, claro, do que o fato de estar em posições de poder faz com elas. A nossa vida é impactada segundo a segundo pelo nosso entorno e tudo nele é pautado pelo político. A situação do país e seu impacto nas condições de vida dessa família, hoje e em qualquer momento, define, por exemplo, a quantidade de proteínas que elas podem comer e a saúde ou falta dela que vão ter e o que vão fazer como consequência disso; a quantidade de tempo que essa mãe pode passar com essa filha entre um trabalho e outro até não aguentar mais e tomar uma decisão radical; a qualidade de sono que vão ter ao passar a noite sem eletricidade e humor com o qual vão lidar com os outros no dia seguinte.
Uma estratégia para trabalhar ainda mais essa fusão inescapável foi usar momentos históricos reconhecíveis e perfeitamente passíveis de serem vividos por essas personagens, como a morte e o funeral de Chávez ou o apagão geral de 5 dias em 2019, dentre outros, como um pano de fundo que se recusa a ficar no fundo e acaba provocando movimentos dramáticos nelas e entre elas.
- O romance evoca uma presença espiritual constante — a do pai morto que continua acompanhando a filha. Essa dimensão simbólica é uma forma de religar a dor à esperança?
Sim, certamente, foi um jeito de sabotar a dor e a morte e lembrar elas que ainda quando estamos tomados por ela, a vida fala mais alto. É um poder bonito da escrita. Também foi uma forma de radicalizar a ideia de que somos seres feitos de memória e carregamos os nossos mortos sempre juntos, e agimos acompanhados por eles e pelos impactos que tiveram em nós enquanto vivos; ou seja, eles continuam nos impactando, agindo sobre o nosso hoje.
- A obra mistura realismo e poesia. Como você equilibra o rigor narrativo com uma linguagem que, muitas vezes, se aproxima da lírica e da memória sensorial?
Pra mim, estão completamente ligados, não consigo pensar neles como elementos diferentes que precisam ser equilibrados. Eu concibo tudo como oriundo da personagem e do narrador com que narro essa personagem e sua humanidade.
O evento dramático narrado é comandado pela subjetividade dessa personagem e se sustenta nessa voz que a narra, que a filtra, que oferece ao leitor não só um que, mas também um como.
A cena concreta, externa, e a cena psíquica, interna, são para mim uma paisagem indissolúvel.
- Ganhador do Prêmio Café Gijón, o livro teve uma recepção internacional muito positiva. O que esse reconhecimento significou para você como autora latino-americana escrevendo em tempos de crise e dispersão?
O prêmio foi uma bela surpresa. Me colocou como parte do panorama da literatura venezuelana contemporânea, do qual eu não fazia parte, pois saí de lá antes de começar a escrever e publicar literatura. Por outro lado, foi muito satisfatório que um livro como esse, com seus pontos de vista, com sua forma e sua liberdade, tenha sido escolhido. Para mim foi um reconhecimento muito bonito e fiquei feliz de oferecer esse relato ao mundo, com as perguntas que ele coloca, e de ele ser alavancado por um prêmio, que trouxe uma publicação, uma ótima distribuição e alcance, já tendo sido traduzido pro italiano, pro inglês e por português.
- Há um debate sobre literatura de resistência na América Latina. Você se reconhece dentro dessa tradição?
Acredito que sim, por vários motivos: é um romance que não tem pudor em usar como marco a revolução que prometeu o sonho que se tornou um pesadelo autoritário; os dilemas que se apresentam no foro interno das personagens passam pelo entendimento de seu lugar nessa construção; e traz o tema da migração, da existência em trânsito e das difíceis dinâmicas da identidade nesses processos.
Dito isso, eu preciso ser honesta e admitir que tenho um certo problema com os rótulos, embora eu entenda que eles nos ajudam a construir genealogias com mais facilidade. Mas, se concebermos essa tradição na sua forma mais ampla, eu vejo que de alguma forma envolve a maioria das autoras que estão escrevendo nesse momento na América Latina e no mundo, porque estamos todas construindo novos discursos sobre o mundo, novas personagens, novas formas de nos relacionar: resistência frente àquilo que se pretende inamovível e tradicional, estabelecido pelos homens e seus deuses e defendido falaciosamente como natural. E isso não precisa supor um discurso evidente nem panfletário, muito pelo contrário, a busca formal também faz parte do meu entendimento sobre a resistência no âmbito literário.
- Em sua opinião, qual é o papel do escritor latino-americano hoje, diante do avanço do autoritarismo e da perda das utopias políticas?
Acho que, se tivesse um papel, esse seria questionar, desobedecer, botar o dedo na ferida. Esse me parece que é o papel não só de quem escreve, como de todo artista. E isso pode, obviamente, assumir uma infinidade de formas, de gêneros, de circulação, o que importa, para mim, é arremessar o leitor para o universo do Outro e comovê-lo, sacudi-lo, fazê-lo viver a beleza e a feiura do mundo e se importar com elas, mesmo que seja um segundo.
- O que você mais gostaria que o leitor brasileiro percebesse — ou sentisse — ao ler Voltar a quando?
Gostaria que quem lesse sinta empatia pelas personagens, por todas elas, inclusive por aquelas que não pertencem ao seu horizonte de opiniões, e que isso de alguma forma impactasse na forma como essa pessoa se relaciona com os imigrantes — tanto os internacionais como os nacionais — no seu dia a dia. Acho que esse é um desejo um pouco grandioso, mas não delirante. Vai ver sou otimista demais. Também, já em outro nível, seria muito interessante que o leitor ampliasse sua leitura sobre Venezuela. Eu gostaria de provocar o questionamento de qualquer verdade, venha de onde vier, que se venda como absoluta, que exija unanimidade e demonize a crítica.
- E, por fim, se fosse possível “voltar”, como propõe o título, há algum momento de sua trajetória pessoal ou do seu país que você gostaria de revisitar?
Pergunta dificílima para a qual não tenho resposta, se o verbo for “voltar”. Por isso mesmo, o título do livro ficou esse, uma busca, um questionamento, em suspense. Já se o verbo for realmente “revisitar”, gostaria de dar uma espiadinha num final de semana de férias, na minha casa em Punto Fijo, todo mundo ainda no país, com seus problemas tradicionais e não com a crise que mudaria nossa vida para sempre; o meu pai vivo; a minha irmã junto; todos dançando, comemorando o simples fato de estarmos juntos.